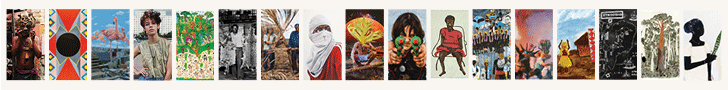Ucrânia, areia movediça da União Europeia
O Ocidente se afunda em contradições e erros. A “europeização” do conflito cresce. Cada país, ao seu modo e interesse, impõe sofrimento aos ucranianos. Em vez de saídas diplomáticas, UE parece querer fustigar ainda mais as tensões entre Rússia e Otan
Publicado 28/03/2024 às 18:31

Por Àngel Ferrero, no El Salto, com tradução na Revista Opera
Em 2012, a Penguin Books publicou The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (Os sonâmbulos: como a Europa entrou em guerra em 1914). Esse detalhado volume de mais de 700 páginas de história, escrito por Christopher Clark, tornou-se um best-seller surpreendente e foi analisado e citado em vários meios de comunicação como um aviso, às vésperas do centenário da Primeira Guerra Mundial, sobre como os governos, alheios às consequências de suas próprias ações, levaram a si mesmos – e, acima de tudo, suas populações – ao massacre. Antes que a tesoura tocasse a fita de seda do evento do primeiro aniversário do lançamento do livro, no final de novembro de 2013, os protestos do Euromaidan começaram em Kiev. O resto, como dizem, é história. Uma história que agora está sendo escrita com ferro e sangue. Talvez nem os políticos europeus nem a mídia europeia tenham tido tempo de ler o livro de Clark que eles tanto recomendaram.
Para a União Europeia, a Ucrânia se tornou um terreno de areia movediça: quanto mais se move nela, mais se afunda em suas próprias contradições. Já tivemos a oportunidade de ver alguns exemplos. No final de fevereiro, por exemplo, a França apoiou a proposta da Estônia de criar eurobônus para financiar o setor de defesa da Europa com 600 bilhões de euros nos próximos dez anos. Os mesmos eurobônus que já foram, lembre-se, recusados para o resgate da Grécia, agora não são apenas uma possibilidade, mas uma necessidade. A Europa, para citar outro exemplo, não pode moralmente importar gás e petróleo de um Estado autocrático como a Rússia, que viola os direitos humanos e faz guerra contra seus vizinhos, mas pode importá-los do Azerbaijão, um Estado autocrático que viola os direitos humanos e faz guerra contra seus vizinhos. A guerra faz milagres.
Há alguns dias, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, soou o alarme ao revelar, antes de uma reunião de chefes de Estado e de governo europeus em Paris, que alguns Estados membros estavam considerando enviar tropas para a Ucrânia com base em acordos bilaterais de defesa. O anfitrião da cúpula confirmou, horas mais tarde, que a possibilidade estava de fato na mesa. “Faremos o que for necessário para garantir que a Rússia não possa vencer essa guerra”, disse o presidente francês Emmanuel Macron. “Nada deve ser excluído”, acrescentou. Com exceção da Lituânia – cujo ministro das Relações Exteriores, Gabrielius Landsbergis, disse que era “uma iniciativa […] que vale a pena considerar” – e da Estônia, o restante dos participantes, incluindo o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, bem como os EUA e o Reino Unido, foram rápidos em se dissociar de tal proposta. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi contundente, afirmando que “nesse caso, teríamos que falar não da probabilidade, mas da inevitabilidade” de um conflito direto entre a OTAN e a Rússia.
O presidente francês e aqueles na mídia que defenderam sua proposta nos últimos dias argumentam que, nessa guerra, outras linhas vermelhas já foram traçadas em relação ao fornecimento de armas à Ucrânia. Embora não esteja formalmente em guerra com a Rússia, a União Europeia fornece à Ucrânia assistência na forma de armas, treinamento de tropas, inteligência, ações diplomáticas e econômicas contra seu rival. Falando ao jornal Financial Times, um oficial de defesa europeu expressou, sob condição de anonimato, o que muitos outros suspeitavam até então: “Todos sabem que existem forças especiais europeias em solo ucrâniano, só não as reconheceram oficialmente ainda”. Em um deslize, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, revelou que as tropas britânicas estão ajudando a Ucrânia em campo a disparar mísseis entregues a ela. O Diretório de Inteligência da Ucrânia (HUR) foi forçado a negar a informação e afirmou que os estrangeiros que lutam na Ucrânia são voluntários, embora um vazamento de documentos secretos dos EUA em abril de 2023 tenha revelado a presença de 97 soldados das forças especiais europeias, incluindo 50 britânicos. De acordo com o jornal britânico The Guardian, essas unidades “conduzem operações secretas, bem como operações secretas de espionagem e reconhecimento, e estão entre as organizações mais secretas das forças armadas britânicas” e, “diferentemente dos serviços de inteligência, as forças especiais não estão sujeitas à supervisão parlamentar externa”.
Ninguém que defendeu a proposta de Macron se lembrou, ou quis se lembrar, que toda ação diplomática ou econômica contra os interesses russos teve uma resposta simétrica ou assimétrica, que a cada novo carregamento de armas chegando na Ucrânia, a Rússia respondeu ameaçando uma escalada militar. O embaixador da Lituânia em Vilnius – e ex-ministro das Relações Exteriores da Lituânia – Linas Linkevicius, colocou lenha na fogueira ao escrever em sua conta pessoal no Twitter que “após a integração da Suécia à Aliança Atlântica, o Mar Báltico se tornou o mar interno da OTAN: se a Rússia ousar desafiar a OTAN, Kaliningrado será ‘neutralizada’”. Ele acrescentou: “As falsas acusações anteriores da Rússia de que ela estava cercada pela OTAN agora estão se tornando realidade”.
“Ao discutir a gênese do conflito atual, é importante lembrar que os principais aspectos das décadas de 1980 e 1990 foram amplamente apagados da consciência pública nos EUA e na Europa pela propaganda estatal e pela mídia de massa”, escreveu Anatol Lieven no The Nation pouco antes dos comentários de Linkevicius. “Se alguém tivesse defendido uma estratégia que envolvesse a entrada da Ucrânia na OTAN e a expulsão da Frota Russa do Mar Negro de Sevastopol, até mesmo os falcões entre os analistas ocidentais teriam considerado isso uma loucura e um caminho certo para a guerra”, opinou Lieven, “Mas a maneira como a percepção desse projeto fantasticamente perigoso passou de loucura a normalidade – em Washington e Londres, mas certamente não em Moscou – é um exemplo assustador do fracasso de uma análise estratégica séria e independente no Ocidente, que vem em parte do declínio até mesmo da memória histórica de médio prazo.”
O que significa “ganhar” ou “perder”?
“Com ou sem o apoio de nossos aliados, não devemos permitir que a Rússia vença”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em seu último discurso em Estrasburgo. Como vimos, Macron também alertou que “a Rússia não pode vencer esta guerra”. “Não deixe a Rússia vencer” é o novo mantra das elites europeias. Em meio a esse barulho de espadas enferrujadas, vale a pena fazer algumas perguntas sobre essa emergente histeria militar.
Quando falam em “ganhar” ou “perder”, os líderes europeus provavelmente não estão pensando nos ucranianos: uma “vitória” russa seria de fato uma “derrota” para o prestígio da UE e para eles pessoalmente. Sua superioridade moral em relação à Ucrânia foi, aos olhos da opinião pública, questionada por seu apoio às ações de Israel em Gaza, e seu discurso de uma vitória rápida e humilhante sobre a Rússia bateu na parede da realidade.
Há quem tenha interpretado o discurso de Macron em um contexto doméstico – levando em conta as iminentes eleições europeias, para as quais as pesquisas preveem uma vitória clara do partido Reagrupamento Nacional (RN) de Marine Le Pen – enquanto outros o interpretaram em termos europeus, como uma tentativa de arrancar, com o apoio da Europa Oriental e das repúblicas bálticas, a liderança da UE de uma Alemanha que atravessa dificuldades econômicas, contrapondo a imagem de declínio que assola a França há décadas. Mas, juntamente com o discurso de Von der Leyen em Estrasburgo – “a guerra não é impossível” – e outras declarações de líderes europeus, também é possível argumentar que isso é um sinal da possível “europeização” do conflito de que Wolfgang Streeck falou no ano passado.
Aparentemente, essa “europeização” contaria com o apoio, embora não com a implicação, do Reino Unido, cujo chefe das Forças Armadas se distanciou indiretamente de Bruxelas na mesma semana do discurso da presidente da Comissão Europeia: “Não estamos à beira da guerra com a Rússia, não estamos prestes a ser invadidos, ninguém no Ministério da Defesa está falando sobre recrutamento no sentido tradicional do termo”, esclareceu o almirante Tony Radakin.
“A guerra não tem sido nada além de um desastre para a Ucrânia e, quando os Estados Unidos finalmente considerarem a abertura de negociações, a Ucrânia acabará com um acordo muito pior do que teria conseguido se tivesse trabalhado para não permitir o início das hostilidades”, escreve o comentarista político norte-americano Joe Costello. No entanto, ele prossegue, “há dois anos, as principais cabeças militares dos EUA estavam gritando que essa guerra seria rápida, que a Rússia estava acabada”. Costello mencionou em seu artigo uma matéria do Wall Street Journal intitulada ‘Germany Should Have Listened to Trump’ (A Alemanha deveria ter ouvido Trump) para abordar as consequências que o conflito está tendo para Berlim: “É engraçado porque, além da Ucrânia, ninguém incorreu em custos maiores nessa guerra do que a Alemanha. O principal argumento do artigo é que Trump, como presidente, repreendeu os alemães por comprarem gás russo. Trump estava errado. Era melhor para os alemães e os russos se aliarem pacificamente, mas isso não era do interesse da segurança nacional dos EUA, e agora a Alemanha dobrou seu erro ao se tornar extremamente dependente do gás natural liquefeito (GNL) dos EUA”. Este mês, a Dinamarca encerrou sua investigação sobre a explosão do gasoduto Nord Stream, após a Suécia tê-lo feito. Sua conclusão é que o gasoduto foi sabotado, embora a investigação não tenha sido capaz de atribuir responsabilidades pelo ataque. O porta-voz do Kremlin descreveu a situação como “quase absurda”: “Por um lado, eles reconhecem que houve sabotagem deliberada, mas, por outro lado, não continuam a investigação”, disse Peskov. Cui prodest? (A quem beneficia?) A União Europeia aumentou suas importações de GNL dos EUA em 119% no ano do ataque.
A “coreanização” da Ucrânia
A forma que essa “europeização” do conflito pode assumir se os EUA de uma forma ou de outra se retirarem dele é algo apresentado pelo historiador soviético e russo Stephen Kotkin em uma entrevista à revista The New Yorker publicada no verão passado. O que Kotkin propõe nessa entrevista é que a Ucrânia deveria aceitar concessões territoriais em troca de garantias de segurança e da incorporação do território restante à UE, fazendo uma comparação com a Guerra da Coreia: “Se você observar o resultado do [conflito] Coreia do Norte-Coreia do Sul, o resultado é terrível”, explicou o historiador. “Ao mesmo tempo”, continuou ele, “é um resultado que permitiu que a Coreia do Sul prosperasse sob as garantias de segurança e proteção dos EUA”.
De acordo com Kotkin, “se houvesse uma Ucrânia, não importa o quanto dela – 80%, 90% – que pudesse prosperar como membro da União Europeia e pudesse ter algum tipo de garantia de segurança – seja uma adesão plena à OTAN, ou um acordo bilateral com os EUA, ou um acordo multilateral que incluísse os EUA, a Polônia e as repúblicas bálticas e os países escandinavos, potencialmente –, isso poderia ser considerado uma vitória na guerra”. Mais recentemente, o cientista político búlgaro Ivan Krastev apresentou uma ideia semelhante, substituindo a Coreia do Sul pela Alemanha Ocidental na comparação.
A proposta de Macron se encaixaria, de certa forma, nessa proposta de “coreanização”, pois ofereceria a Kiev garantias de segurança e sua integração de fato como uma periferia da UE, enquanto, ao mesmo tempo, os estados da UE que participassem de tal operação poderiam apresentar a entrada de suas tropas como uma “vitória”: uma demonstração de apoio à Ucrânia e uma demonstração de força militar independente de Washington – ainda mais se as recentes tensões na Transnístria forem resolvidas a favor da Moldávia em um cenário semelhante ao de Nagorno-Karabakh, como acredita o jornalista Leonid Ragozin.
Por sua vez, a Rússia poderia, até certo ponto, viver com essa solução de curto prazo, como fez com tantos outros “conflitos congelados” em sua vizinhança. O cientista político norte-americano John Mearsheimer já argumentou que o objetivo de Moscou nessa guerra não é ocupar o país inteiro, mas controlar efetivamente os quatro territórios anexados em 2022 (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporiyia) e talvez outros quatro (Odessa, Mikolayev, Dnipropetrovsk e Kharkov) que lhe permitiriam fechar o acesso da Ucrânia ao mar. Nos documentos das negociações de 2022, a Rússia exigiu a neutralidade da Ucrânia – embora nada tenha sido dito sobre sua entrada na UE –, que as potências ocidentais deveriam garantir, e a limitação das tropas e armas do exército ucraniano, especialmente mísseis, cujo alcance deveria ser limitado a 40 quilômetros. A Rússia não estava disposta a negociar o status da Crimeia, mas deixou a questão do Donbass sujeita a negociações futuras. De acordo com uma análise do Wall Street Journal, o documento “parece ser vagamente baseado no tratado de 1990 que criou uma Alemanha unificada, no qual as tropas da União Soviética deixaram a Alemanha Oriental com a condição de que o país desistisse das armas nucleares e limitasse o tamanho de seu exército”. “Se a Ucrânia e o Ocidente estivessem em negociações de paz hoje, elas provavelmente seguiriam as mesmas linhas, mais o território anexado”, observou Ragozin, “quanto mais tempo durar essa guerra, mais território: essa é a posição básica de negociação do Kremlin.”
A guerra em si talvez tenha se tornado a melhor evidência das dificuldades do governo russo em manter o controle dos territórios que capturou – mesmo que a vitória do Partido das Regiões, que defendia uma aproximação com Moscou, nas últimas eleições legislativas para toda a Ucrânia (realizadas em 2012) parecesse indicar o contrário – e em avançar para outros territórios, com seus respectivos grandes centros urbanos. Moscou também não parece demonstrar muito interesse no restante da Ucrânia, cuja ocupação, com uma população abertamente hostil à Rússia, seria um problema ainda maior. Em outras palavras, a Ucrânia se tornaria um novo estado báltico: politicamente conservador, raivosamente russofóbico e economicamente dependente de Bruxelas e Washington.
É claro que, sem acordos subsequentes que ajudem a aliviar as tensões entre a UE e a Rússia, as tentativas de um lado de desestabilizar e desgastar o outro continuarão. “É bem possível que a anexação dos novos territórios à Rússia não seja estável”, escreve o jornalista Rafael Poch-de-Feliu, pois “o que restar da Ucrânia organizará a instabilidade nesses territórios ocupados com a ajuda da OTAN, forçando ao estabelecimento de administrações policiais e ‘antiterroristas’ russas com a panóplia usual de violência, ataques, tortura e desaparecimentos”. Dependendo de como isso se desenvolver, ele prossegue, “será criado um grande terreno para o desenvolvimento de ataques, ataques e assassinatos pessoais pelos serviços secretos ucranianos com a ajuda ocidental, especialmente britânica, contra personalidades russas e ‘colaboracionistas’ […] tanto nesses territórios recém-incorporados quanto na Rússia como um todo”, o que “poderia endurecer muito o clima político interno no país e transformar uma situação mais ou menos congelada em um câncer para a Rússia”.
“Fale com um ucraniano”
Por outro lado, a integração da Ucrânia à UE, mesmo que não assuma a forma de adesão plena, por si só, ou seja, evitando as condições de guerra, já seria suficientemente desestabilizadora para o bloco, sem qualquer necessidade de intervenção russa. Esse já foi um motivo para protestos de agricultores no Leste Europeu, especialmente na Polônia, onde as manifestações chegaram até a fronteira com a Ucrânia. “Os agricultores têm exigido mais proteções contra as importações da Ucrânia”, observou Wolfgang Münchau no EuroBriefing, lembrando que a proposta de estender a flexibilização das regras alfandegárias para o campo ucraniano tem a oposição da Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária e Eslováquia, e que, em resposta à mesma oposição, a Comissão Europeia já restringiu as importações de carne de aves, ovos e açúcar, caso excedam os níveis de 2022-2023.
A essa altura do artigo, um leitor desconfiado já deve ter se perguntado: “E onde está a Ucrânia em toda essa história?” A “agência” e a “autodeterminação” dos ucranianos, tão reivindicadas por alguns think tanks e pela mídia, são, paradoxalmente, ignoradas com uma regularidade surpreendente. A opinião deles foi suplantada pelo que Carl Beijer chamou de “complexo de influência ucraniano”: a presença na mídia e nas redes sociais de personalidades ligadas a redes ocidentais e dependentes de apoio, cuja opinião é, logicamente, tendenciosa e não representativa. “Em geral, a norma tem sido insistir que todos no país apoiam essa guerra e rejeitam uma solução diplomática”, escreve Beijer, “por isso uma das frases mais comuns dos falcões é a exigência de que os críticos ‘conversem com um ucraniano’: Assim, os ucranianos que não se enquadram nesse estereótipo podem ser apagados e silenciados, e todos esses problemas incômodos, como a liberdade de expressão e o direito à objeção de consciência, todos esses malditos direitos humanos que tantas vezes impedem uma boa guerra, podem ser ignorados”.
Se ouvirmos os discursos dos líderes europeus, parece que essa não é mais uma guerra dos ucranianos, mas uma guerra dos “europeus”, cujas consequências físicas os ucranianos sofrem indiretamente. Ninguém disse isso melhor do que o ministro das relações exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, em Davos, em janeiro passado: “Oferecemos a vocês o melhor acordo possível: não sacrifiquem seus soldados, dêem-nos armas e dinheiro e nós faremos o trabalho”.
(*) Tradução de Raul Chiliani
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.